[Entrevista] Professora Artemisa Candé fala sobre identidade e movimento negro, racismo e luta contra o preconceito
Filha de professores, a guineense Artemisa Candé chegou ao Brasil em 2001 para cursar Ciências Sociais, na Universidade Federal do Piauí (UFPI), pelo Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G). Ali tomou contato com o racismo “à brasileira”, mas também com as pesquisas sobre africanidades e com os movimentos negros.
A professora da Unilab já trilhou notável carreira acadêmica: durante o mestrado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), debruçou-se sobre temas como identidade, movimentos negros e luta contra o racismo. No doutorado, voltou-se ao seu país, observando a construção do Estado Nacional da Guiné-Bissau. Artemisa fala com a lucidez de quem une vivência, pesquisa científica e ardor em defesa de uma causa.
Unilab – Nós queríamos que a senhora falasse um pouco sobre a sua trajetória como pessoa, professora e pesquisadora. Como essas trajetórias se juntam? O que levou a senhora a estudar, por exemplo, identidade negra, nacionalismo guineense, História da África?
Artemisa Candé – Eu fui estudante de convênio, de PEC-G (Programa de Estudantes-Convênio de Graduação), que é um acordo que o Brasil tem com Guiné-Bissau, anterior à Unilab, e cheguei ao Brasil nesse âmbito, em 2001, para cursar a graduação em Ciências Sociais, na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Como estive no Piauí por quatro anos, fazendo graduação e, posteriormente, licenciatura em Sociologia, nessa trajetória tive a oportunidade de fazer parte do Núcleo de Pesquisa em Africanidades e Afrodescendência da UFPI, chamado Ifaradá.
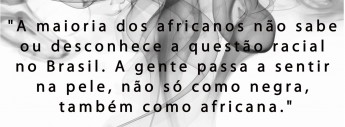 Esse núcleo me concedeu uma bolsa de pesquisa, de financiamento a partir do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), e eu comecei a ter acesso às questões raciais discutidas no Brasil, até então uma questão distante da minha convivência. Então, a gente vem pro Brasil, a maioria dos africanos, não vou dizer quase todos, não sabe ou desconhece a questão racial no Brasil, que existe essa tamanha discriminação e desigualdade racial. A gente passa, na chegada, a sentir isso na pele, não só como negra, também como africana, um outro fator que é o desconhecimento total da África nesse país. Então você passa a ter dupla discriminação: você é discriminada pela cor da pele e pela procedência, por ser africana. Como eu passei a fazer parte desse núcleo, discutia essas questões, comecei a sentir o assunto e a me dedicar cada vez mais, comecei a participar das pesquisas do núcleo, que fazia mapeamento nas comunidades negras rurais do Piauí, comecei a ter mais proximidade com os assuntos quilombolas, então me destaquei nesse sentido e cheguei a ser a vice-coordenadora do núcleo. Tive a oportunidade de ter acesso aos movimentos negros e consegui enxergar essa homogeneidade discursiva em relação ao continente africano, como é que a África era vista, a homogeneidade. África era vista às vezes como um país, outra vezes associada a doenças, fome, primitivismo. Muitas pessoas na universidade chegam a questionar se a gente não tem saudade dos leões, lobos do nosso país, como se a gente convivesse com esses animais no mesmo lugar. Praticamente não se tem noção do que é o continente africano, como é que se estruturam as sociedades africanas. Nesse sentido, comecei a fazer pesquisa. Elegi uma temática para a minha monografia, que era sobre essa África no imaginário social brasileiro, como essa África era vista. Comecei a fazer o projeto de pesquisa e dentro da universidade, no centro que eu estudava, de Humanidades e Letras, poucos sabiam que a África era um continente. E poucos sabiam que a gente tinha também sociedades urbanas, como o Brasil tem sociedades rurais, e também morava nas casas, edifícios etc. Esse projeto foi muito bem acolhido no curso que eu estava fazendo, consegui elaborar um projeto interessante, e fui orientada posteriormente pela professora Junia (Napoleão), da Antropologia. Depois da graduação, aprimorei o projeto, mas já querendo pesquisar não só essa presença africana que é desconhecida, que é homogeneizada, mas também falar como o movimento negro percebia essa África, porque eu comecei a perceber que existiam outras visões da África, além do que a mídia brasileira passava.
Esse núcleo me concedeu uma bolsa de pesquisa, de financiamento a partir do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), e eu comecei a ter acesso às questões raciais discutidas no Brasil, até então uma questão distante da minha convivência. Então, a gente vem pro Brasil, a maioria dos africanos, não vou dizer quase todos, não sabe ou desconhece a questão racial no Brasil, que existe essa tamanha discriminação e desigualdade racial. A gente passa, na chegada, a sentir isso na pele, não só como negra, também como africana, um outro fator que é o desconhecimento total da África nesse país. Então você passa a ter dupla discriminação: você é discriminada pela cor da pele e pela procedência, por ser africana. Como eu passei a fazer parte desse núcleo, discutia essas questões, comecei a sentir o assunto e a me dedicar cada vez mais, comecei a participar das pesquisas do núcleo, que fazia mapeamento nas comunidades negras rurais do Piauí, comecei a ter mais proximidade com os assuntos quilombolas, então me destaquei nesse sentido e cheguei a ser a vice-coordenadora do núcleo. Tive a oportunidade de ter acesso aos movimentos negros e consegui enxergar essa homogeneidade discursiva em relação ao continente africano, como é que a África era vista, a homogeneidade. África era vista às vezes como um país, outra vezes associada a doenças, fome, primitivismo. Muitas pessoas na universidade chegam a questionar se a gente não tem saudade dos leões, lobos do nosso país, como se a gente convivesse com esses animais no mesmo lugar. Praticamente não se tem noção do que é o continente africano, como é que se estruturam as sociedades africanas. Nesse sentido, comecei a fazer pesquisa. Elegi uma temática para a minha monografia, que era sobre essa África no imaginário social brasileiro, como essa África era vista. Comecei a fazer o projeto de pesquisa e dentro da universidade, no centro que eu estudava, de Humanidades e Letras, poucos sabiam que a África era um continente. E poucos sabiam que a gente tinha também sociedades urbanas, como o Brasil tem sociedades rurais, e também morava nas casas, edifícios etc. Esse projeto foi muito bem acolhido no curso que eu estava fazendo, consegui elaborar um projeto interessante, e fui orientada posteriormente pela professora Junia (Napoleão), da Antropologia. Depois da graduação, aprimorei o projeto, mas já querendo pesquisar não só essa presença africana que é desconhecida, que é homogeneizada, mas também falar como o movimento negro percebia essa África, porque eu comecei a perceber que existiam outras visões da África, além do que a mídia brasileira passava.
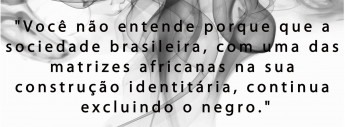 Era uma visão da África positivada a partir das questões raciais. Então, as partes que eram antes negativizadas, o corpo da mulher negra, o cabelo, a cor negra, esses aspectos foram positivados a partir do discurso de construção de uma nova identidade negra. Reelaborei o projeto de monografia para um projeto de mestrado trabalhando já em Teresina a africanização das aparências, como é que a África era moldada a partir da estética do movimento negro e também das narrativas discursivas. Eu consegui ver que não só esse tema que eu elegi no projeto como prioritário, mas tinha outra questão interessante naquele momento que era a própria origem do movimento negro em Teresina, numa cidade em que se nega a existência de negros. Quando cheguei a Teresina ouvi do então governador, Mão Santa, que Piauí não tinha negros. Então muitas pessoas diziam que nós éramos os primeiros negros a chegar a Teresina. Depois que comecei a fazer parte do grupo vi que existiam negros e era uma questão histórica a sua negação. Outro aspecto foi bem importante, e depois foi ressaltado: coincidiu com a inserção dos negros no poder estatal em Teresina, Piauí, a partir da eleição do governador Wellington Dias, do PT (Partido dos Trabalhadores). Ele conseguiu criar a coordenadoria da pessoa negra, envolvendo pessoas do movimento negro como coordenador, que era na época Adalci Regina; colocou uma mulher militante do movimento negro como secretária de Cultura, que era Sônia Terra. Numa sociedade que se nega a ser negra, isso criou um grande revanchismo. A Sônia foi até ameaçada de morte, então eram muitos blogues que criavam adjetivos, que a fundação cultural do estado, onde ela era secretária, ia se transformar num terreiro de candomblé, porque só tinham negros lá que só sabiam bater tambor, que não sabiam fazer nada de cultura. Foi interessante essa trajetória, a dissertação e depois o livro em que a dissertação se transformou. E foi a partir dessa circunstância que eu pesquisei a questão negra em Teresina e também pela convivência. Depois disso eu consegui fazer a pesquisa sobre Guiné-Bissau, sobre o Nacionalismo, o processo de construção da identidade nacional, como se conseguiu criar uma noção da nação com homogeneidade cultural diante de grandes diversidades étnicas que compõem o pais, então tive que recuar para estudar processos de luta de libertação nacional, como foram os processos de luta de libertação nacional desde a ocupação europeia até os processos da independência, e foi assim que pesquisei sobre Guiné-Bissau. E consequentemente a História da África vai entrar dentro desse processo de estudo da Guiné-Bissau, porque Guiné-Bissau é micro dentro dessa questão macro da África.
Era uma visão da África positivada a partir das questões raciais. Então, as partes que eram antes negativizadas, o corpo da mulher negra, o cabelo, a cor negra, esses aspectos foram positivados a partir do discurso de construção de uma nova identidade negra. Reelaborei o projeto de monografia para um projeto de mestrado trabalhando já em Teresina a africanização das aparências, como é que a África era moldada a partir da estética do movimento negro e também das narrativas discursivas. Eu consegui ver que não só esse tema que eu elegi no projeto como prioritário, mas tinha outra questão interessante naquele momento que era a própria origem do movimento negro em Teresina, numa cidade em que se nega a existência de negros. Quando cheguei a Teresina ouvi do então governador, Mão Santa, que Piauí não tinha negros. Então muitas pessoas diziam que nós éramos os primeiros negros a chegar a Teresina. Depois que comecei a fazer parte do grupo vi que existiam negros e era uma questão histórica a sua negação. Outro aspecto foi bem importante, e depois foi ressaltado: coincidiu com a inserção dos negros no poder estatal em Teresina, Piauí, a partir da eleição do governador Wellington Dias, do PT (Partido dos Trabalhadores). Ele conseguiu criar a coordenadoria da pessoa negra, envolvendo pessoas do movimento negro como coordenador, que era na época Adalci Regina; colocou uma mulher militante do movimento negro como secretária de Cultura, que era Sônia Terra. Numa sociedade que se nega a ser negra, isso criou um grande revanchismo. A Sônia foi até ameaçada de morte, então eram muitos blogues que criavam adjetivos, que a fundação cultural do estado, onde ela era secretária, ia se transformar num terreiro de candomblé, porque só tinham negros lá que só sabiam bater tambor, que não sabiam fazer nada de cultura. Foi interessante essa trajetória, a dissertação e depois o livro em que a dissertação se transformou. E foi a partir dessa circunstância que eu pesquisei a questão negra em Teresina e também pela convivência. Depois disso eu consegui fazer a pesquisa sobre Guiné-Bissau, sobre o Nacionalismo, o processo de construção da identidade nacional, como se conseguiu criar uma noção da nação com homogeneidade cultural diante de grandes diversidades étnicas que compõem o pais, então tive que recuar para estudar processos de luta de libertação nacional, como foram os processos de luta de libertação nacional desde a ocupação europeia até os processos da independência, e foi assim que pesquisei sobre Guiné-Bissau. E consequentemente a História da África vai entrar dentro desse processo de estudo da Guiné-Bissau, porque Guiné-Bissau é micro dentro dessa questão macro da África.

Artemisa Candé estudou identidade, movimentos negros e luta contra o racismo, no mestrado, e no doutorado pesquisou a construção do Estado Nacional da Guiné-Bissau. Foto: Assecom/Unilab.
Unilab – A senhora citou o que muitos alunos relatam, principalmente os guineenses, que eles não conheciam o racismo lá, que vieram conhecer aqui no Brasil. E, então, como é ser mulher negra estrangeira no Brasil? E no Nordeste brasileiro, né?
Artemisa – É complicado. Ser mulher já é uma desvantagem na sociedade machista. Ser negra já é uma outra desvantagem numa sociedade racista. Então eu junto uma dupla questão da discriminação, ainda que ser negro na sociedade brasileira, na época em que eu estava, em 2001, ainda não se tinha negros na universidade. Hoje já é uma questão tranquila, mas anteriormente era ainda a questão da viabilidade, se as cotas eram legítimas, constitucionais ou não para a sociedade brasileira, para que o negro conseguisse entrar. É uma questão complicada. Nos primeiros momentos na universidade, ser estrangeira já te exclui um pouco da convivência, porque nós, apesar de sermos da mesma língua portuguesa, nós temos um outro português, nós somos desse tronco do português, da colônia portuguesa… Guiné-Bissau e Brasil falam um português diferente. Então nosso sotaque e nossa forma diferente de falar nos tornam ainda um pouco mais distantes das pessoas. Ainda mais que se vê o africano como aquele exótico ou aquele que é passível de trazer doenças, temos que abrir esses parênteses aqui para falar isso que é válido, porque muitos pensam que nós viemos trazendo doenças do continente africano para o Brasil. E a mídia não cansa de reportar isso, sempre que um africano… hoje é o ebola, a transmissão. É verdade que o racismo, para nós, causa estranheza e ao mesmo tempo uma grande consternação. Você não entende por que que a sociedade brasileira, com uma das matrizes africanas na sua construção identitária, continua excluindo o negro. Porque você tem que disputar. Não basta você ser inteligente, sempre você vai ser considerado esforçado na sala. Então você faz muitas das vezes os trabalhos separados, isolados dos outros, nunca você tem um grupo onde vai ser integrado. Eu costumo incentivar os alunos aqui na sala a fazerem os grupos da integração, nunca fazerem grupos eminentemente de brasileiros, estamos numa universidade da integração, requer integrar realmente. Eu digo: se aproxima do seu colega que é de uma outra cultura e pergunta as dúvidas que você tem e tenha curiosidade de conhecer outra cultura, não com um olhar de preconceito, mas com o olhar de curiosidade de quem quer saber, conhecer o outro além de discriminar. Então é essa dupla exclusão que a gente vai enfrentando. Muito menos quando você é uma mulher com o nível de escolaridade que a gente já alcançou nessa sociedade, você não consegue ser ainda considerada professora, as pessoas ainda te veem como aluna ou como qualquer funcionária, menos como professora doutora da universidade. Esse racismo sutil a gente vai tentando driblar durante todo o processo dessa convivência.
Unilab – Houve algum episódio mais marcante, desde que a senhora chegou ao Brasil, desse racismo à brasileira?
Artemisa – Teve em Salvador. Eu estava saindo do prédio onde morava e encontrei uma senhora que me perguntou quanto eu cobrava para fazer a faxina. Eu estava saindo arrumada para ir para a faculdade – eu estava fazendo o doutorado, inclusive –, aí ela me perguntou: “Me diga, moça, quanto vocês cobram pela faxina?” Eu disse “Hum?”, eu perguntei ainda “oi?”, e ela “Quanto é que vocês cobram pra fazer a faxina, eu tô procurando uma faxineira”, eu disse “Eu não faço faxina aqui não, eu moro aqui”. Aí o porteiro reforçou, dizendo “Ela é doutora”, e então ela ficou toda errada com a 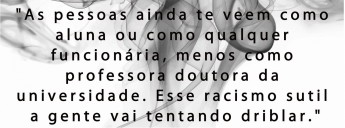 situação, mas eu acho que são questões circunstanciais, a gente vai passar por essas questões de ser confundida com empregada doméstica – nada contra a profissão – mas não é só. Somos confundidas com babá, com outras coisas, menos com o nível acadêmico que a gente está exercendo. Isso ainda é recorrente nessa sociedade, constantemente a gente precisa disputar o espaço. Mesmo dentro da universidade, sendo doutora e professora, a gente precisa acionar sempre o mecanismo de legitimação desses espaços que a gente conquistou. Do mesmo jeito que um branco também adentrou nessa universidade, nós cumprimos todas essas etapas e nós precisamos todo tempo acionar esse mecanismo de legitimidade desse espaço, de estar aqui, e é isso que cansa às vezes, que não seria necessário.
situação, mas eu acho que são questões circunstanciais, a gente vai passar por essas questões de ser confundida com empregada doméstica – nada contra a profissão – mas não é só. Somos confundidas com babá, com outras coisas, menos com o nível acadêmico que a gente está exercendo. Isso ainda é recorrente nessa sociedade, constantemente a gente precisa disputar o espaço. Mesmo dentro da universidade, sendo doutora e professora, a gente precisa acionar sempre o mecanismo de legitimação desses espaços que a gente conquistou. Do mesmo jeito que um branco também adentrou nessa universidade, nós cumprimos todas essas etapas e nós precisamos todo tempo acionar esse mecanismo de legitimidade desse espaço, de estar aqui, e é isso que cansa às vezes, que não seria necessário.
Unilab – Qual a importância de celebrar o Dia da Consciência Negra?
Artemisa – Eu acho que mais que a importância de celebrar o Dia da Consciência Negra é esclarecer para as pessoas quem foi Zumbi dos Palmares, porque as vezes a história é diluída em meio às comemorações, não se conta realmente porque que se faz o 20 de novembro como feriado e porque que se comemora o 20 de novembro. Eu acho que é uma data simbólica, que requer uma grande reflexão de quem foi esse grande homem, que não era escravizado, mas saiu da sua condição, da sua “zona de sombra”, podemos dizer, para juntar-se aos seus para lutar por uma liberdade, é isso que é importante. Como acionar os mecanismos de resistência e como criar solidariedade para com o próximo. Então, nessa questão, eu acho que a gente precisa falar realmente quem é o Zumbi dos Palmares, porque que 20 de novembro é uma data simbólica para os negros na sociedade brasileira.

Zumbi dos Palmares foi assassinado em 20 de novembro de 1695. Na década de 1970, movimentos negros no Brasil decidiram eleger o dia como marco da resistência negra.
Zumbi dos Palmares foi assassinado, ele poderia ter um outro fim, diferente do fim que ele teve, porque ele teve uma vida tranquila, digamos, onde ele estava, mas ele preferiu criar um estado africano dentro do estado colonial para contestar o sistema colonial e ainda propor negociações para a libertação dos negros e condições de trabalho. É isso que é importante para o 20 de novembro. E nos leva também a refletir bastante sobre como, mais de 127 anos da abolição da escravidão, ainda estamos falando do racismo no Brasil, em pleno século XXI se fala da discriminação racial, dos estereótipos produzidos, das mulheres negras ainda vistas como objeto sexual, dos homens negros idem, no mesmo parâmetro, ainda estamos falando de condições de acessibilidade aos direitos da saúde, da educação, aos direitos do trabalho, a uma dignidade, a uma cidadania digna. Eu acho que passam-se os tempos, temos algumas evoluções lentas, algumas melhorias, algumas conquistas interessantes. O movimento negro propôs a lei 10.639, a lei que torna obrigatório o ensino da África e da cultura afro-brasileira, que faz com que as pessoas reconheçam suas identidades e tira o africano ou os descendentes de africanos da condição de escravos e lhes torna a sua condição digna de construtores da nação. É importante quando você traz essas histórias na sala de aula, recontar a história de uma forma diferente e também nos leva a questionar até que ponto o Estado brasileiro não vai assumir essas questões do segmento negro como uma política do Estado, mesmo. Os Estados Unidos criaram isso. Quando foi abolida a escravidão, os negros nos EUA tiveram direitos. Não foi questionado porque que deveriam ter esses direitos, porque eram cidadãos do país. Eu acho que os brasileiros precisam parar de questionar a viabilidade das cotas. Apesar de elas agora serem constitucionais, continua a se questionar porque os negros brasileiros precisam das cotas raciais, e eu acho que a historicidade da inserção do negro na educação, da inserção do negro na sociedade brasileira de forma desigual já nos dá essa resposta automática do porquê dessa política pública para a inserção.
Unilab – Que outros caminhos a senhora poderia apontar, hoje, para a luta contra o racismo?
Artemisa – Os caminhos que eu posso direcionar aqui para a luta contra o racismo é o racismo tornar-se realmente crime. Não precisar de alguém testemunhar… acabar com essas brechas da lei, que deixam para uma pessoa não ser punida, [a lei] tem que ser severa. Esses são os avanços que precisamos na sociedade brasileira. E que se encare a questão de ser discriminado como qualquer outro crime, porque vai atingir a sua autoestima, pode gerar problemas psicológicos. Então, que discriminação racial seja considerado crime hediondo, as pessoas vão parar de praticá-lo, tornando severas as aplicações da lei contra a discriminação racial. A outra questão: abrir mais oportunidades. Hoje, felizmente, temos mais negros nas universidades – diferente dos 2% que a gente contabilizava em 2002, 2003 – graças às cotas raciais. Mas as cotas raciais são políticas paliativas, são políticas de médio, curto prazo. Então precisam-se
de políticas da inserção permanente dos negros nas universidades. Que melhore a educação de forma geral, não temos objeção a isso, mas que crie uma política diferenciada para os diferentes, os que são tratados de forma diferente. Eu acho que esse é o caminho que ainda a gente espera para gerar mais emprego. Para que você não encontre no mercado de trabalho ainda a questão da “boa aparência”, da fotografia, para que vejam a cor da pele e que função você pode desempenhar. Para que sejamos todos médicos, advogados, nutricionistas, engenheiros, professores, que essa sociedade se torne uma sociedade onde todos possam desempenhar uma função de cidadania igual, isso eu acho que a gente ainda está tentando cultivar.
Unilab – Como a senhora vê o papel da Unilab na luta contra os preconceitos?
Artemisa – Bem, falando da Unilab, eu sou recém-chegada, mas as minhas impressões iniciais e com os contatos que eu já tenho na sala de aula, eu posso já arriscar e dizer algumas coisas. Eu acho que a Unilab é importante, sim, no momento em que se cria essa aproximação com os países da expressão portuguesa. Muito mais do que isso, a Unilab reúne cinco países da África que falam português, trazendo aquele histórico do Brasil com a África. A Unilab veio a reforçar e fortalecer os elos do Brasil com a África. Mas a Unilab não pode se contentar apenas com uma política de selecionar alunos e trazer. Dentro da Unilab precisa-se desencadear políticas direcionadas a esses alunos. Primeiramente, estamos numa universidade da integração e existe, ao meu ver, pouca integração entre os alunos dessa universidade, o que não poderia ser, já que temos um projeto político diferenciado em relação às outras universidades federais. Cria-se o ninho de cada país. A Unilab poderia dar mais contribuição em relação a isso que eu estou falando. Eu acho que não é o objetivo que a Unilab propõe. Outra questão: os brasileiros que estudam na Unilab precisam saber o que é esse convênio, esse acordo entre a Unilab e os países africanos. Que não vejam esses meninos africanos como os que estão aqui tirando a vaga deles. Quando a gente veio estudar, na época, – e isso ainda é recorrente com os alunos que estão vindo pelo PEC-G – somos sempre acusados de que tomamos vagas de brasileiros, e aqui na
Unilab isso está se repetindo. 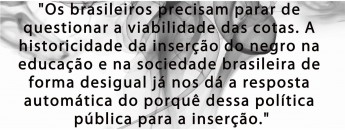 A Unilab precisa explicar para esses alunos o porquê desses africanos aqui, da sua presença e qual é a contrapartida do Brasil e qual é a contrapartida dos países africanos nesse acordo. O racismo você sempre vai encontrar, porque estamos numa cidade pequena. O racismo é presente em todas as camadas da sociedade brasileira. Os africanos sempre vão ser questionados, e isso foge do nosso controle, de quando é que eles vão voltar para a África, o que que eles vêm fazer aqui e por que que eles estão aqui. Então essas são perguntas que fogem do nosso controle, nunca vamos poder fazer com que eles não passem esse constrangimento, mas primeiramente acreditamos que a Universidade precisa ainda fazer a sua parte dentro desse programa de tentar explicar aos alunos brasileiros e africanos a importância dessa integração e a importância de cada uma delas aqui dentro da universidade. Não só os alunos, como também os professores, porque nós temos também professores africanos dentro da Unilab. Se a Unilab é uma universidade da integração, com certeza terá um número importantíssimo de professores africanos. Ainda estamos aqui bem reduzidos, então isso também é uma parte que eu acho que ainda tem certa resistência. Não vou dizer que isso vem do racismo e preconceito, mas a gente tem um legado histórico dessas questões que não nos permite ficar desatentos. Quanto mais tivermos professores africanos, essa integração será mais fluida entre alunos e professores também.
A Unilab precisa explicar para esses alunos o porquê desses africanos aqui, da sua presença e qual é a contrapartida do Brasil e qual é a contrapartida dos países africanos nesse acordo. O racismo você sempre vai encontrar, porque estamos numa cidade pequena. O racismo é presente em todas as camadas da sociedade brasileira. Os africanos sempre vão ser questionados, e isso foge do nosso controle, de quando é que eles vão voltar para a África, o que que eles vêm fazer aqui e por que que eles estão aqui. Então essas são perguntas que fogem do nosso controle, nunca vamos poder fazer com que eles não passem esse constrangimento, mas primeiramente acreditamos que a Universidade precisa ainda fazer a sua parte dentro desse programa de tentar explicar aos alunos brasileiros e africanos a importância dessa integração e a importância de cada uma delas aqui dentro da universidade. Não só os alunos, como também os professores, porque nós temos também professores africanos dentro da Unilab. Se a Unilab é uma universidade da integração, com certeza terá um número importantíssimo de professores africanos. Ainda estamos aqui bem reduzidos, então isso também é uma parte que eu acho que ainda tem certa resistência. Não vou dizer que isso vem do racismo e preconceito, mas a gente tem um legado histórico dessas questões que não nos permite ficar desatentos. Quanto mais tivermos professores africanos, essa integração será mais fluida entre alunos e professores também.
